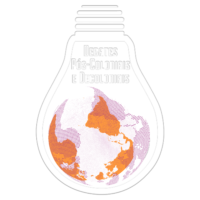Para citar esse texto:
KLEIN, Monik; LARANJEIRAS, Leandro; MARQUES, Luany; MOTTA, Victoria. SOMOS O QUE COMEMOS: A CONTRIBUIÇÃO DO LEGADO COLONIAL PARA A CRISE DA SOBERANIA ALIMENTAR. Debates Pós Coloniais e Decoloniais, 31 mar 2021. Disponível em: https://decoloniais.com/somos-o-que-comemos-a-contribuicao-do-legado-colonial-para-a-crise-da-soberania-alimentar/ Acesso em: *inserir data*
Mignolo (2017) argumenta que não há modernidade sem colonialidade, pontuando que o pensamento e a ação decolonial surgiram como resposta às opressões causadas pela imposição dos ideais modernos europeus, exportados para o mundo não europeu. Sendo assim, o autor denuncia o caráter violento através do qual foi imposta a modernidade e alega que o lado obscuro desse processo, isto é, a colonialidade é ocultada sob a narrativa do progresso ocidental. O que estaria oculto, portanto, seriam as bases através das quais a modernidade pôde ser construída, sendo elas: a guerra, a escravização, o genocídio, o etnocídio, a exploração e expropriação de recursos das Américas, ferramentas constitutivas do mundo “moderno” e “civilizado”. “A chave da compreensão da modernidade, portanto, se encontra na assimetria das relações de poder entre Europa e os outros povos, o que implica uma subalternização necessária das práticas e das subjetividades próprias dos povos dominados” (Benvegnú; Manrique, 2020, p. 42).
A ideia de colonialidade do poder, conceituada por Aníbal Quijano em 1989, aponta que as relações de colonialidade nos âmbitos econômico e político não foram interrompidas com o fim do colonialismo, assim, ainda hoje as relações de dominação estão presentes na sociedade. As ideias de Estados centrais e periféricos são naturalizadas, o que legitima as condições de hierarquia entre eles. Nesse sentido, a colonialidade engloba não só o poder, mas estende-se para abarcar o ser, influenciando formas de ser e estar no mundo, e o saber, concentrando-o sobre as epistemologias ocidentais, em que a ciência e a produção de conhecimento são legítimas se forem elaboradas sob o padrão dos “países centrais”, que ignoram, invalidam e silenciam os conhecimentos produzidos por povos colonizados, ao mesmo tempo que mantêm os privilégios das elites coloniais. A matriz colonial do poder é, portanto, uma estrutura complexa que envolve o controle da economia, da política, da natureza, do gênero, da sexualidade, da ciência, do conhecimento e das subjetividades.
A proposta deste trabalho é mostrar que este conceito também pode ser estendido para o âmbito da alimentação, em que há a relação de dominação sobre a alimentação da população, o que Herrera Miller (2016) conceituou como “colonialidade alimentar”. A lógica desenvolvimentista não visa à soberania alimentar da população brasileira, ou seja, o direito da população de decidir sobre suas políticas agrícolas e alimentares, mas sim o lucro obtido por meio das exportações do agronegócio. O desenvolvimentismo, portanto, proporciona a extensão das práticas moderno-coloniais e seus mecanismos. Segundo Benvegnú e Manrique,
Se as variedades transgênicas cultivadas pelas agriculturas do agronegócio podem ser entendidas como colonizadoras tanto do espaço agrícola como do espaço social, significa que os produtos alimentares processados a partir desses cultivos também podem ser pensados como colonizadores e consequentemente mantenedores de uma colonialidade. Essa colonialidade provinda dos alimentos estará, no limite, relacionada à produção e ao governo de corpos e de subjetividades (Benvegnú; Manrique, 2020, p. 44).
O termo “soberania alimentar” surge da luta popular contra a colonialidade alimentar, criado pelo Movimento Internacional de Camponeses – Via Campesina em 1996, como uma proposta alternativa de produção e consumo, que apoia os povos em sua luta contra o agronegócio. Soberania alimentar é o direito da população de decidir sobre suas políticas em relação à produção, distribuição e consumo de alimentos. Isso significa decidir o que cultivar, como comercializar, o que destinar aos mercados internos e externos e controlar os recursos naturais básicos como terra e água, para garantir o direito à alimentação a toda a população. O conceito também está relacionado ao respeito à diversidade dos modos de vida e produção das culturas indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. É, sobretudo, o direito que os povos têm de produzir seus próprios alimentos, exercendo soberania em relação à sua alimentação.
Assim, a soberania alimentar é a chave fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. A lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) determina que a segurança alimentar e nutricional abrange: a ampliação da produção da agricultura tradicional e familiar; a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; o estímulo a práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural da população; e a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país.
O direito à alimentação adequada, portanto, é garantido pela Constituição Federal e, ainda assim, a falta de políticas públicas direcionadas à saúde e alimentação apropriada da população brasileira está cada vez mais evidente, dado que o Brasil, após sair do Mapa da Fome -mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável- em 2014, corre o risco de voltar novamente a fazer parte do Mapa, segundo dado coletados pelo IBGE entre 2017-2018 – situação que muito provavelmente foi agravada pela pandemia de COVID-19. Segundo a estimativa do Banco Mundial, cerca 5,4 milhões de brasileiros podem atingir a extrema pobreza, chegando a um total de 14,7 milhões de pessoas, totalizando 7% da população, o que pode resultar na volta do país ao Mapa da Fome.
As políticas atuais são aplicadas na direção contrária do que é estabelecido pela Constituição, refletidas na falta de pautas para a segurança alimentar, que incentivem a agricultura familiar e a agroecologia e na falta de participação popular nas decisões em relação à alimentação da população. Além disso, a autorização para a utilização de novos agrotóxicos atualmente cresce de forma acelerada no país. Uma análise do Instituto Butantan encomendada pela Fiocruz investigou dez agrotóxicos amplamente usados no Brasil e apontou que os pesticidas são extremamente tóxicos ao meio ambiente e à vida em qualquer concentração, mesmo em dosagens equivalentes a até um trigésimo do recomendado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) -a pesquisadora que coordenou o estudo sofreu perseguição dentro da própria Instituição, que negou ter conhecimento sobre a pesquisa. Em dois anos de mandato, o atual presidente liberou a utilização de aproximadamente mil agrotóxicos.
Desse modo, ao falarem sobre a fome no Brasil, Silva e Sá (2006) nos contam que sua origem está no processo histórico-político da formação econômica brasileira cujas raízes são do período colonial e para demonstrar isso, fazem um panorama histórico da alimentação brasileira do referido período até 1940. Do século XIV ao século XIX, para os autores, a fome esteve relacionada com a concentração de riqueza e a produção voltada para a exportação de matéria-prima e o abastecimento das metrópoles.
Os primeiros colonos portugueses trouxeram ao Brasil frutas, legumes e verduras, mas os pobres foram obrigados a abandonar a policultura em detrimento da monocultura da cana de açúcar. Além disso, García e Benvegnú (2018, p. 45) nos lembram que a dieta dos sujeitos colonizados era “definida de acordo com que o fazendeiro ou colono considerava pertinente para seu desempenho, reduzindo ao consumo de milho, carne, banana e sal”.
Assim, como bem coloca Magalhães (2004) apud Silva e Sá (2006), o padrão de consumo alimentar no Brasil estava dividido em dois grandes grupos: o do europeu e o povo; enquanto este sofria duras restrições alimentares, aquele importava tudo que necessitava. Neste ponto, seguindo o pensamento de García e Benvegnú (2018), surge a imposição da ideia de que a “alta culinária” está relacionada e reduzida aos sabores e maneiras de preparo advindas da Europa.
Para além disso, entre os séculos XVII e XVIII, o Brasil passou por pelo menos 25 anos de fome e outros dois terços de encarecimento do custo de vida e penúria, que, para Silva e Sá (2006), deu-se em função de os grandes produtores mercantis escolherem voltar a produção para o abastecimento externo, com a justificativa de que o comércio colonial oferecia rendimentos muito mais elevados. Ou seja, como coloca Magalhães (2004 apud Silva e Sá, 2006, p. 48), “o sistema econômico que se montava, não permitindo atividades diversificadas, foi marcado pela exigüidade do mercado interno, bem como pelas condições inerentes ao sistema produtivo geral, no qual se inseria”.
Ao final do século XIX e começo do XX, ocorreu uma série de transformações no país, como a abolição formal da escravatura, a expansão demográfica e a difusão do modo de produção capitalista no mercado interno, que de acordo com Lima (1998 apud Silva e Sá, 2006) fez com que, na década de 1930, a sociedade brasileira demandasse mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais “comprometidas com a reorientação dos rumos do país, momento em que um novo Estado se reorganizava e assumia a tarefa de orientar o próprio desenvolvimento social”.
De fato, foi em meados dos anos 1940 que Josué de Castro levantou, pela primeira vez, mapas das cinco áreas alimentares e das principais carências nutricionais existentes no Brasil, publicados no clássico ‘Geografia da Fome’. No entanto, a adoção do modelo desenvolvimentista na agricultura acarretou na produção mecanizada, baseada nos interesses de acumulação de capital, que não apenas recorre ao uso de insumos químicos e de sementes transgênicas, como se compromete com a colonialidade alimentar e adota uma ideia reducionista da alimentação, como fórmula de nutrientes necessária para manter o desempenho do corpo-máquina. Assim, nos deparamos com um desenvolvimento econômico insustentável e a manutenção de uma sociedade miserável, faminta e colonizada.
Quando tu conheces a origem do teu alimento, tu vais escolher quem tá na mesa contigo: se vai ser o agricultor ou se vai ser quem está matando o agricultor; se vão ser os povos originários ou quem está secando as nascentes – Tainá Marajoara
A escolha individual pelo tipo de alimento que será consumido e como este será preparado é produto de uma cadeia de fatores que são muitas vezes invisíveis ou inconscientes para o indivíduo enquanto consumidor final. A produção, o processamento, o transporte, a distribuição e a precificação dos alimentos, e as condições sociais, econômicas, ambientais e estruturais através das quais se dão esses processos se relacionam diretamente com as práticas alimentares individuais das pessoas. A correlação desses fatores forma o que se entende por “sistema alimentar”, cujos impactos ambientais e socioeconômicos se estendem desde a maneira como é determinado o cultivo dos alimentos até a saúde de quem os consome, podendo ser positivos ou destrutivos.
Segundo Valdely Kinupp, professor doutor e especialista em Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), apenas quatro alimentos fornecem 60% das calorias ingeridas a nível mundial: arroz, trigo, milho e batata. Esse dado atenta para o fato de que, mais do que nunca, a alimentação ao redor do mundo se vê monótona e fortemente padronizada. Nesse sentido, um dos objetivos da presente pesquisa é refletir sobre o por quê e quais as consequências disso na garantia da soberania alimentar dos povos, partindo de uma análise decolonial.
As fundações Heinrich Böll e Rosa Luxemburgo produziram “O atlas do agronegócio”, documento lançado em 2018, que revela como um pequeno número de corporações controla o sistema alimentar a nível mundial, impactando diretamente as práticas alimentares das populações por terem acesso a enormes redes de distribuição e poder de negociação de preços. Esses gigantes corporativos “negociam aqui e retornam com os lucros para seus países de origem enquanto nos distanciam das culturas alimentares locais, numa verdadeira lógica colonizadora do comer” (de Medeiros Silva; Emilia, 2019, p. 50). Suas pretensões hegemônicas são diretas e inegáveis, garantindo seu controle ao atuarem desde no mercado financeiro, de investimentos e de tecnologia de informação até no de sementes, maquinário, terra, fertilizantes e agrotóxicos. A cadeia corporativa de produção alimentar é marcada pela concentração fundiária e pela monocultura, além da mecanização das funções agrárias que dependem de energias não renováveis, de gastos absurdos de água e do uso de insumos químicos nocivos à sustentabilidade dos ecossistemas -como agrotóxicos e fertilizantes-, assim como o uso de sementes transgênicas.
Respondendo aos interesses capitalistas que norteiam o universo corporativo, o atual sistema alimentar hegemônico é arquitetado para maximizar a geração de lucro e, para isso, se prioriza a produção e o consumo de uma quantidade cada vez mais reduzida de grãos. No Brasil, essa hegemonia é fruto da manutenção sistemática da colonialidade junto à hegemonia da razão ocidental e se manifesta em dois pontos cruciais. Primeiramente, prioriza-se a produção agrícola para a exportação e não para a alimentação da população, de modo que as consequências destrutivas deste sistema a níveis social, cultural e ambiental se legitimam pela manutenção da posição agroexportadora a qual o Brasil foi inserido na lógica econômica do sistema mundial moderno/colonial que beneficia, por fim, os países centrais. Em segundo lugar, ao limitar e condicionar as escolhas alimentares, a alimentação mecanizada é pensada para garantir a saciedade, desconsiderando seu potencial cultural e até mesmo a satisfação das necessidades nutricionais humanas. No fim dessa cadeia, ainda se reproduz a noção do alimento apenas como uma fórmula para garantir o funcionamento básico do corpo-máquina, para que este ao menos cumpra com seu papel esperado no sistema capitalista.
A partir disso, a hegemonização do sistema alimentar corporativo se torna uma extensão do projeto moderno/colonial de controle dos corpos. A monocultura no campo se reflete, deste modo, na monotonia alimentar: a monocultura no prato. Este modelo é imposto em detrimento da lógica cultural que permeia as práticas alimentares familiares e tradicionais. Assim, a mecanização da alimentação desconsidera a noção de cultura alimentar que, como nos ensina Tainá Marajoara, “germina dos espaços dos povos originários e comunidades tradicionais”. Nos sistema alimentares tradicionais, as formas de plantio, colheita, preparo e consumo dos alimentos carregam forte bagagem cultural, o que não ocorre no modelo de produção materialista em larga escala e em série, pois “máquina não faz ritual, não tem espiritualidade, não transmite conhecimento entre gerações. (…) O que significa que não tem uma produção com identidade, uma assinatura ali. Diferente da produção cultural. Cultura vem do conhecimento tradicional, das práticas artesanais, do saber, fazer, falar, dos vocabulários, dos nossos rituais, dos nossos cantos” (Tainá Marajoara).
Em prol da “modernização da agricultura” ou do “desenvolvimento”, lideranças rurais, tradicionais e indígenas são diariamente ameaçadas, assassinadas e seus povos retirados de seus territórios para que avancem as fronteiras do agronegócio no Brasil. Além do genocídio cultural e humano, exercido ao passo que o avanço do agronegócio remove e assassina comunidades que defendem outras maneiras de se pensar e relacionar com o território, forçando uma universalização dos moldes ocidentais capitalistas de produção e consumo de alimentos, o sistema alimentar moderno produz, também, um genocídio ecológico. Para garantir sua expansão, modifica-se violentamente os ambientes rurais e destrói-se sistematicamente biomas, habitats e ecossistemas.
A manutenção deste sistema, que se sustenta através de mecanismos moderno-coloniais, não só dificulta como impede a garantia plena da soberania alimentar aos povos do Brasil. Por isso, o conceito foi e é desenvolvido através de lutas populares, contra a hegemonia corporativa e, portanto, anticoloniais, para que seja garantido enquanto direito humano básico o acesso permanente, regular e de forma socialmente justa a práticas alimentares que se adequem aos aspectos biológicos, culturais e sociais dos indivíduos. Conforme a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2007), a soberania alimentar deve considerar a adequação alimentar às “dimensões de gênero, raça e etnia e as formas de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados” (de Medeiros Silva; Emilia, 2019, p. 51). Enquanto prevalecer a homogeneização ocidental, capitalista, neo-liberal, colonial, moderna e desenvolvimentista de produção e consumo alimentares, estará latente a ameaça ao direito à vida das atuais e futuras gerações, em prol de um sistema que produz alimentos “com o espírito da violência, com sangue das lideranças tombadas na defesa das terras, com veneno, com exploração. Essa comida não nutre; adoece” (Inara Sateré Mawé).
Referências
BALLESTRIN, L. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, (11), 89-117, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n11/04.pdf.
Benvegnú, V.C.; Manrique, D. (2020). Colonialidade alimentar? Alguns apontamentos para reflexão. Mundo Amazónico, 11(1): 39-56. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/76440.
MIGNOLO, W. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais – vol. 32, n°. 94. 2017.
SILVA, João Luiz e Sá, Alcindo José de. A Fome no Brasil: do período colonial até 1940. Revista de Geografia (Recife), vol. 23, n. 3, 2006.
Mulheres e soberania alimentar: sementes de mundos possíveis – Rio de Janeiro : Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), 2019. p. 42-56.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.