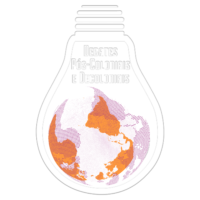Para citar esse texto:
ALVES, Luísa; FREITAS, Lucas M; GOMES, Rayana; MOTTA, Victoria; QUAL É O PAPEL DO RACISMO NAS TEORIAS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS? Debates Pós Coloniais e Decoloniais, 12 mai 2022. Disponível em: https://decoloniais.com/qual-e-o-papel-do-racismo-nas-teorias-de-relacoes-internacionais/ Acesso em: *inserir data*
Introdução
Desde a primeira aula, alunos de Relações Internacionais (RI) e, em certa medida, Defesa e Gestão Estratégica Internacional (DGEI) são apresentados às principais questões que vão guiar seus próximos anos de estudo, a partir da problematização do “Internacional” enquanto um espaço diferente do doméstico, de interação de Estados e atores não estatais. A história das RI que escutamos nas aulas introdutórias, mesmo que simplificada para o primeiro período, narra uma visão muito simplista do que antes e hoje entendemos como a disciplina (RI) e as relações entre os países (ri), narrativa essa que apaga seu caráter colonial.
Como parte das nossas Rodas de Conversa, o Debates propõe discutir textos acadêmicos, ou não, que desafiem essa narração. Atentando-se ao nosso compromisso de desmistificar textos e conceitos em outras línguas, este texto busca debater o papel do racismo nas teorias de Relações Internacionais (TRI). Assim, concentramos nossa discussão principalmente nos livros e artigos que utilizamos no último ciclo de Rodas de Conversa:
- White World Order, Black Power Politics: The Birth of American International Relations (2015), por Robert Vitalis;
- Bridging International Relations and Postcolonialism (1994), por P. Darby e A. J. Paolini;
- As Relações Internacionais e seus Epistemicídios (2019), por Marta Fernández;
- Is IR Theory White? Racialised Subject-Positioning in Three Canonical Texts (2020), por Meera Sabaratnam.
Essas primeiras aulas da introdução à RI ou Política Internacional geralmente começam com o “oficial” de sua fundação no final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) em uma tentativa de conter um segundo conflito tão violento. No entanto, antes dessa guerra, as relações internacionais já existiam e eram majoritariamente de interesse privado, sendo voltadas para as relações comerciais ou relações diplomáticas que não detinham ampla discussão pública. Apesar de a disciplina se popularizar no período entre guerras (1919-1937), as relações entre os Estados e sua violência devido à colonialidade foram apagadas das discussões e estudos conduzidos sob o nome das RIs, o que leva à não problematização do poder das grandes potências do século XX, por exemplo. Consequentemente, há a reafirmação de que as relações internacionais são relações que englobam o interesse branco anglo-europeu, isto é, mais uma área de conhecimento é criada e utilizada para atender os interesses desse grupo dominante.
Nesse sentido, Robert Vitalis (2015) começa seu livro argumentando que as relações internacionais são relações raciais. Para o autor, os pensadores da institucionalização da disciplina no início do século XX acreditavam que uma guerra racial poderia levar ao fim da hegemonia mundial branca. Com isso, pensava-se que questões raciais não deveriam entrar no conteúdo disciplinar. Isso ocorre devido à propagação do imperialismo para promover uma ordem mundial branca, onde as ideias de desenvolvimento racial são restringidas a uma “guerra racial’’ que ameaçava findar a hegemonia branca. Dessa forma, as Relações Internacionais poderiam compartilhar os interesses coloniais, impactando setores políticos e sociais.
Além disso, as faculdades e as universidades são cruciais para a reprodução de informações e formas de pensar, falar e escrever sobre o mundo. Um exemplo disso é apontado por Vitalis ao enumerar méritos de “escolas-chaves” como Harvard, University of Denver e Columbia que têm cargos de influência em jornais, políticas públicas e militares ou ensinam RI. Inspirado em Bruce Kuklick – historiador e especialista em história diplomática e intelectual dos Estados Unidos na Universidade da Pensilvânia –, Vitalis (2015, p. 4) os denomina como intermediários intelectuais (“intelectual middlemen”) da disciplina, por conseguirem transmitir ideias para o público não acadêmico. O que o autor busca chamar atenção, contudo, é que essas pessoas (em sua maioria homens brancos) continuam a propagar as premissas e visões de mundos das teorias “mainstream” de RI no meio em que trabalham.
Assim, os estudantes universitários são geralmente apresentados a duas (ou três) grandes correntes teóricas que buscam explicar as TRI vistas como “mainstream” das Relações Internacionais. O realismo e o liberalismo (e, se sobrar espaço no currículo, o construtivismo) teorizam as dinâmicas de poder causadas pela anarquia internacional, que se torna uma premissa básica e inquestionável dessas abordagens, enquanto o Estado se concretiza como o ator principal (às vezes único) da análise.
Segundo Vitalis (2015), o ponto chave dessa problemática é que as aulas introdutórias do curso de Relações Internacionais são usualmente ministradas por professores brancos recém formados em instituições repletas de importantes homens brancos que surgiram na disciplina como grandes teóricos. Assim, há uma contínua repetição de uma literatura, que não questiona ideia do mito dos impérios e as grandes potências, adotando uma postura de desinteresse quanto ao estudo do imperialismo. (Re)produzir tais narrativas sobre a disciplina reafirma a ideia central do argumento de Vitalis e o propósito deste texto, já que não havia espaço na sala de aula para pensar em teorias e visões de mundos alternativas, como a inclusão dos debates acerca do racismo.
O que a “narrativa oficial” das RIs não conta?
A narrativa das RI se pauta no ideal do Estado Moderno, uma forma de organização sócio-política que possui sua “origem” no Mito de Vestfália. Como documentos que colocam fim em duas violentas e prolongadas guerras de cunho religioso e político no continente europeu (e notem a centralidade da Europa nessa narrativa), os três tratados conhecidos como a Paz de Vestfália (1648) não discutem o que é o Estado moderno, porém, é atribuído a esse momento histórico a “criação” da Política Internacional que temos atualmente. O que Inayatullah e Blaney (2004) discutem, no entanto, é como a mitologia por trás de Vestfália adia o problema de como lidar com a diferença para o plano internacional.
Essa ideia se torna base para a disciplina de RI, que acaba naturalizando o Estado moderno como uma instituição legítima e como ponto final do desenvolvimento das sociedades. Isso em detrimento das demais formas de organização social, cultural e política, vistas como “falhas”. As TRI clássicas, portanto, não questionam essa forma de organização socio-política e acabam reiterando-a como única instituição aceitável, mesmo carregada de ações violentas como a colonização e o genocídio em sua história.
Fernández (2019) salienta que essas teorias consideradas mainstream, apesar de terem particularidades, partem de um mesmo princípio quando adotam o Estado moderno como a unidade única de análise: a anarquia do Sistema Internacional. Isso significa que não há uma instituição que esteja acima dos Estados, deixando-os livres para resolver seus problemas. Consequentemente, as discussões contratualistas sobre o estado de natureza se consagram como a principal metáfora para explicar as relações entre unidades com a predominância do estado de natureza de Thomas Hobbes.
Assim, a entrada do pensamento hobbesiano nas teorias de Relações Internacionais nos condicionou a pensar que, na ausência de um Estado soberano, o que restaria seria a insegurança e hostilidade do estado de natureza. Esse Estado passou a ser visto como única forma de organização política e social, logo, falhar em seguir esse modelo resulta em insegurança e a desordem do Sistema Internacional. A partir dessa análise, o Estado vestefaliano passou a ser visto como única forma de organização legítima dentro das Relações Internacionais (FERNÁNDEZ, 2019).
Como já mostramos em outros posts, esse estado de natureza é criado como uma explicação para a gênese da hierarquização das sociedades e indivíduos, uma vez que a partir dele seria possível ver momentos “anteriores” das sociedades atuais europeias nas experiências sociais de outros povos. Com isso, a noção de estado de natureza trouxe a ideia de tempo linear na história da humanidade, cuja principal premissa é que os indivíduos partem do estado de natureza em direção ao “homem desenvolvido” do Estado moderno. Neste sentido, houve uma separação entre sociedades desenvolvidas e atrasadas com base nessa métrica. Fernández (2019) ressalta, portanto, que é no encontro do homem europeu com o não-europeu que se inicia a filosofia linear do tempo, uma vez que embora estivessem em tempos cronológicos iguais, o não-europeu estava localizado em tempo ontológico distinto nessa metáfora, isto é, estava “atrasados” em relação ao europeu. Essa lógica legitimou também o “fardo do homem branco” de levar o desenvolvimento para os “atrasados”.
Além disso, a ideia do contrato social como um acordo consensual e coerente é uma das ferramentas usadas para exclusão de grupos não-europeus, como se eles aceitassem sua condição subordinada. Assim, não se pode invisibilizar o caráter coercitivo e racista do contrato social uma vez que ele hierarquiza os indivíduos entre brancos e não-brancos e, a partir disso, direciona uma violência desproporcional, sendo assim “a injustiça racial não é um desvio da sociedade moderna, mas a constitui” (FERNÁNDEZ, 2019, p. 8).
Nessa perspectiva, Darby e Paolini (1994) argumentam que as RIs devem situar temáticas contemporâneas e posicionar novos discursos com relação aos tradicionais. Enquanto as Relações Internacionais continuadamente se dedicam a explorar mitos de origem e pontos de partida históricos, a disciplina é relutante ao explorar sua posição em demais áreas de estudo dentro das Humanidades. É nesse sentido que o discurso pós-colonial é apontado pelos autores como uma fonte enriquecedora ao diálogo com a disciplina, tendo em vista seu caráter transformativo e preocupado com as constantes mudanças de seus quadros de referências.
Sabaratnam (2020), então, introduz dois esforços para (re)pensar a disciplina. Em primeiro lugar, há autores que buscam apontar o privilégio que homens (poucas mulheres) detém enquanto brancos anglo-saxões (que esquecem que são brancos) ao produzir saberes científicos, o que faz parte da proposta política, por exemplo, de Vitalis. Para a autora, contudo, esse tipo de abordagem não necessariamente vai teorizar a raça, mas abordar a branquitude como uma categoria interna e explícita no discurso histórico e acaba não engajando tanto com a contemporaneidade.
Em segundo lugar, há o modelo de denúncias da ausência da discussão sobre raça e branquitude na atualidade, movimento que Krishna (2001), por exemplo, realiza essa crítica com o conceito de “amnésia” das TRI. Assim, nós nos inspiramos nesses movimentos para discutir o papel do racismo, tanto em um momento anterior de institucionalização da disciplina quanto na sua atualidade.
Como o realismo e o liberalismo (e o construtivismo) dominaram as RIs?
A forte influência das teorias mais clássicas de RI, realismo, liberalismo e construtivismo (re)produzem uma autoridade científica sobre o que pode ser enquadrado como RI ou não, ou seja, ao que é atribuído o “selo de aprovação” de conhecimento científico. Dessa forma, entender as premissas (o que sustenta um argumento) de cada uma dessas abordagens e as consequências de um foco excessivo na metáfora da passagem do estado de natureza para a sociedade civil e no Mito de Vestfália (Estado moderno) são fundamentais para discutir o papel do racismo nas TRI.
Primeiramente, os teóricos realistas, sobretudo os neorrealistas (ou realismo estrutural), entendem as guerras, a insegurança e os “problemas” do Sistema Internacional como resultados invariáveis dessa anarquia. Essa teoria ignora contextos históricos, culturais e visões do mundo distintas, priorizando a experiência das grandes potências ocidentais/brancas.
Ao tentar analisar a continuidade da guerra entre as grandes potências, Waltz, principal teórico neorrealista, argumenta que, na anarquia, essas unidades (os Estados) tendem a buscar mais poder com o objetivo de sobreviverem, ou seja, a sobrevivência é posta como o objetivo único dos Estados. Sendo assim, o autor ignora aspectos históricos e culturais dos Estados que analisa e do contexto em que eles estão inseridos, uma vez que foca na interação entre os Estados mais fortes, simplificando a agência (se sequer ela existe) dos Estados mais fracos como meras adaptações à distribuição de poder material do SI, caso contrário serão destruídos.
Dentro da tradição realista, a discussão caminha para encontrar o melhor modelo de distribuição de poder para diminuir a incidência da guerra, isto é, a paz é impossível, o papel das TRI é conter o avanço desproporcional de conflitos em que as grandes potências buscam garantir sua segurança. Se, por um lado, Waltz (1979) desvaloriza o desbalanceamento de poder, para Gilpin (2002) é justamente esse desbalanceamento de poder entre os Estados que gera a estabilidade, uma vez que são esses Estados que geram os meios para a segurança e o regime econômico internacional.
Segundo Fernández (2019) a teoria da estabilidade hegemónica de Gilpin ajuda na produção e reprodução de “história única” do mundo, uma vez que foca histórias e culturas, a partir de valores e instituições anglo-saxonicas. Nesse sentido, a problemática por trás do neorrealismo (e do realismo em geral) reside não apenas no apagamento e rejeição de contextos históricos, culturais e econômicos de sociedades não-ocidentais, mas também no seu foco de análise, que são as questões de segurança e nos ganhos que os Estados, buscando analisar o comportamento dos Estados, que sempre estão em busca de ganhos absolutos com o objetivo de sobreviverem nesse sistema anárquico.
Já os teóricos liberais ao analisarem os problemas resultados da anarquia internacional sustentam que os valores, instituições e normas liberais teriam a capacidade de atenuar tais problemas, ou seja, se todos os Estados seguissem os modelos liberais os problemas de insegurança e instabilidades seriam atenuados. Essa proposta liberal parte de um local específico, o Ocidente branco, e ignora a história, cultura, contexto e cosmovisões não-ocidentais. Sendo assim, “o projeto liberal da paz implica, por conseguinte, num projeto paralelo de erradicação da diferença” (FERNÁNDEZ, 2014).
Fernández (2019) traz o pensamento kantiano a respeito dos taitianos como forma de questionar a universalização das teorias liberais, uma vez que estas teorias ignoram as desigualdades de distribuição de raça e gênero. Segundo a autora, Kan,t quando reconhece algum resquício de humanidade do outro, esse outro está nos primeiros estágios do desenvolvimento europeu. Portanto, Kant adota uma postura de valorização do telos europeu, isto é, a fase final do desenvolvimento do indivíduo, seguindo o modelo europeu e legitima o não-reconhecimento da humanidade do Outro ou, quando reconhecida, é uma humanidade incompleta.
Uma exemplificação desse pensamento, com suas devidas proporções, é a teoria da Paz Liberal. Seu principal teórico, o estadunidense Michael Doyle, sustenta que os Estados liberais por partilharem dos mesmos valores, instituições e regimes viveriam em paz entre si. Esse tipo de lógica, porém, permite o uso da força contra os Estados não liberais, porque eles não partilham das mesmas expectativas de comportamento e constrangimentos caso não as seguissem. Tal lógica coloca o Estado liberal westfaliano como a única forma legítima de organização sócio-política, sendo colocada no topo da hierarquia. Essa teoria sustenta que a paz se dará por meio da mudança cultural, econômica e políticas dos Estados não liberais através de todos os meios necessários. Portanto, essa teoria sustenta que a “paz liberal” se dará por meio da destruição do outro não liberal.
Outro ponto forte para a teoria liberal é as condicionalidades da cooperação entre os Estados, supostamente distanciando-se do neorrealismo que não enxerga muitos estímulos à cooperação. Teóricos liberais como Robert O. Keohane e Joseph S. Nye Jr. (1989) trazem uma “nova” análise para as TRI – que ignora e silencia as relações de poder, as questões raciais e o caráter colonial do Sistema Internacional e das teorias mainstream das RI – em que os Estados não são os únicos atores (Estados, ONGs, empresas e organizações internacionais também contam) e a política é baseada no interesse das diversas agendas. Se, por um lado, os interesses dos Estados podem sair de uma lógica simplista de sobrevivência e são vistos como interdependentes, por outro, a compreensão dessas interações limitadas a um contexto específico, o das instituições internacionais, como uma forma de garantir o ordenamento do Sistema Internacional. Esse modelo teórico, contudo, continua olhando quase que exclusivamente para Estados capitalistas “avançados”, onde “interesses comuns” são maiores e, porque são “interdependentes”, compartilham pontos de vista sobre como organizar a economia. Os países do Sul Global só importam se afetarem a estrutura econômica do Norte (SABARATNAM, 2020).
Embora essas teorias tidas como mainstream das Relações Internacionais e opostas em suas visões de mundo, Fernández (2019) sustenta que quando nos propomos analisá-las criticamente, suas divergências são quase nulas. Sobretudo na década de 1980 quando as teorias neorrealistas e neoliberais passam a analisar o mundo convergindo cada vez mais seu ponto de vista e suas premissas, com destaque para o papel das instituições e os ganhos (independente de serem relativos ou absolutos) que os Estados buscam. Logo, o intitulado “debate neo-neo”, como essa discussão é apresentada nas aulas de TRI, persiste colocam todas as unidades de análise (que continuam praticamente se restringindo a Estados) como iguais e ignora questões históricas, econômicas, culturais e ideológicas, se revelando utilitarista.
Quando ainda “sobra tempo”, as aulas tradicionais de TRI caminham para a introdução da corrente teórica construtivista nas RI, escolhendo principalmente Alexander Wendt como expoente. O autor desenvolve o conceito de “culturas de anarquia” para defender que há diferentes parâmetros de interação entre os Estados. Essa teorização, entretanto, continua fixada na tradição da filosofia política ocidental/branca (SABARATNAM, 2020).
Apesar da ausência de critérios explícitos para a seleção de ‘assuntos’ e atores relevantes na abordagem teórica, seu foco do autor no Ocidente branco fica mais evidente nos exemplos ao longo do texto: (1) a separação temporal das ‘culturas da anarquia’ com base em períodos definidos convencionalmente pela historiografia ocidental (por exemplo, 1648 como uma transição de estados feudais para estados soberanos) e (2) o reconhecimento de que os “padrões de civilização” ocidentais estabelecem os limites para a socialização em pelo menos uma das “culturas” (SABARATNAM, 2020).
Nessa perspectiva, as teorias dominantes exercem o papel de gatekeepers, isto é, elas “abrem” e “fecham” os portões do que pode ser considerado aceitável enquanto produção de conhecimento dentro das RI. Na tentativa de fazer uma teoria “parcimoniosa” e “elegante”, essas abordagens entendem o Internacional de uma forma simplista que apaga diversas outras visões. A mediação proporcionada pela imagem do gatekeeper, que faz parte da ampla discussão do significado de “ciência” e “conhecimento” para além das RI, possui consequências para o próprio entendimento do papel da disciplina na sociedade.
Para além de racismo, o que a predominância dessas teorias implica?
Uma forma de mostrar o papel do racismo nas teorias mainstream é feita por Sabaratnam ao mostrar o posicionamento (standpoint) desses autores frente aos debates que eles propõem. Isso significa questionar a produção de sentido em suas teorizações por meio do contraste dos seus discursos com a produção de sujeitos pelo posicionamento em relação a outros sujeitos e outros objetos. Ao colocar ênfase no caráter “inadvertido, não intencional e excepcional” dos comportamentos ou práticas racistas de um movimento teórico, a autora foca nas condições de possibilidade para a produção discursiva de determinada ideia e sua naturalização.
Assim, o posicionamento do sujeito ajuda a explicar como os textos “tradicionais” de TRI funcionam para produzir entendimentos sobre o mundo e por que essas teorizações podem ser rotuladas como “brancas”. Para ela, “a branquidade emerge como um efeito de práticas específicas de representação e também dos modos como ditas representações posicionam o sujeito em relação a um mundo constituído e produzido por meio de conjuntos de práticas e relações racializadas” (SABARATNAM, 2020, p. 13, tradução livre).
Enquanto um conceito central da sua análise, a branquitude nas TRI não reside na cor da pele dos autores, nas intenções conscientes ou nos locais de origem (características que poderiam definir uma “identidade”), mas nas maneiras pelas quais um conjunto de premissas epistemológicas e compromissos éticos da pesquisa naturalizam entendimentos racializados da política mundial, baseados em hierarquias entre seres humanos. Ela provém da normalização e naturalização da posição privilegiada das pessoas brancas no campo.
A autora inclusive rejeita realizar esse tipo de análise a partir do conceito de “Ocidente” por acreditar que a formação racial global, apesar de começar com o Colonialismo, em que os países ocidentais colonizaram outros povos, só se concretiza como racismo científico no século XIX: “De maneira crítica, a formação racial global que emergiu desses processos não foi apenas entre regiões geograficamente falando, mas que continha formações racialmente hierárquicas dentro delas” (SABARATNAM, 2020, p. 8, tradução livre).
Assim, a branquitude é criada na relação colonizador/colonizado que envolve uma codificação racial. Já o Ocidente entra como uma categoria da corrida imperialista que diferencia o Ocidente dos Outros racializados. Além disso, a categoria branquitude permite explorar uma discussão interna que Ocidente ofusca pelo seu foco geográfico. Discussões raciais como cidadania de segunda classe e capitalismo racial também existem dentro de países ocidentais, logo, não há uma nítida separação entre governanças raciais domésticas ou internacionais.
A partir disso, a autora apresenta três epistemologias para investigar a branquitude em formulações teóricas. Isso significa que a análise da autora foca em como teóricos adotam “lentes” para enxergar seus objetos de estudo, ou seja, os recortes que uma determinada epistemologia oferece para “enxergar” os problemas do Internacional.
A epistemologia da imanência demonstra a naturalização de um foco em um “eu” ocidental historicamente excepcional, que é distinto e especial, mas também pode formar a base para uma visão geral e objetiva da política internacional. Isso se traduz (1) na exclusividade dos Estados e, dentre eles, nas grandes potências como objeto de análise; (2) na apresentação de eventos históricos relevantes para a disciplina com base somente na historiografia ocidental e (3) no enquadramento das teorização na tradição filosófica do Iluminismo.
Em segundo lugar, a epistemologia da ignorância sinaliza como as hierarquias racializadas têm suas origens e/ou reproduções pormenorizadas na análise ou simplesmente não fazem parte das investigações dos autores. Sabaratnam (2020), no entanto, argumenta que essas relações coloniais são base fundacional para os “problemas” analisados pelos autores. Isso leva tanto ao obscurecimento de assuntos não-brancos em geral, quanto por meio do obscurecimento das formas pelas quais as formas de violência imperial e as relações de hierarquia racializada sustentam a dinâmica saliente da política internacional moderna.
Por meio de seus padrões de abstração e apagamento do registro histórico, esses textos constroem um mundo no qual um conjunto selecionado de ‘Estados’ e seu comportamento podem ser mapeados como respostas anonimamente racionais, razoáveis, naturais ou socializadas a condições gerais ou estímulos em uma forma que parece fundamentalmente indiferente às questões de raça (SABARATNAM, 2020, p. 20, tradução livre).
Por fim, a epistemologia da inocência se manifesta na (re)afirmação e defesa do trabalho dos autores e das ações do Ocidente branco como possuindo uma a respeitabilidade moral e boa-fé, o que para a autora denota uma localização epistêmica e um investimento subjetivo na branquitude. Dessa forma, a “grandeza” ocidental precisa ser explicada de uma forma que não conceda uma base potencialmente ilegítima na era “pós-colonial”, permitindo a manutenção do poder conferido aos países e pessoas brancas (SABARATNAM, 2020).
Essas epistemologias e o próprio posicionamento branco não problematizado levam, portanto, aos epistemicídios das TRI. Como ressalta Fernández (2019), o epistemicídio é o processo de apagamento de conhecimento, saberes e cosmovisões locais das sociedades colonizadas. Esse processo, somado a mitos racistas e sexistas, foi um dos instrumentos utilizados para a criação da hierarquia entre os indivíduos, além de privilegiar o homem europeu e colocá-lo no topo dessa hierarquia. Dentro das RI, esse processo de epistemicídio se dá pelo apagamento e silenciamento de cosmovisões diferentes das ditas universais. Como já dito, as teorias mainstream das RI enxergam o Sistema Internacional como anárquico, o Estado moderno como única instituição legítima e o estado de natureza como principal metáfora. Assim, qualquer cosmovisão que enxerga a realidade de forma distinta é ignorada, uma vez que não possui as premissas ditas “universais” e, portanto, não é vista como válida.
Como o Pós-Colonialismo e a Decolonialidade nos ajudam a (re)pensar a disciplina?
Darby e Paolini (1994) apontam como a disciplina das Relações Internacionais são criticadas pela falta de autorreflexão, a qual contribui para os desafios de sustentar a Teoria Realista nos dias atuais. A falta de representatividade, a continuidade de uma unidade de discurso, desconsiderações de culturas e narrativas, entre outras questões, refletem no modo no qual a própria disciplina/matéria foi construída. Desse modo, a necessidade de se repensar as lógicas de conhecimento e enquadramento e, assim, repensar o discurso tradicional da disciplina, significa aprofundar ainda mais no caráter crítico o qual se faz presente no debate pós-colonial, questionando as instâncias de poder de natureza eurocêntrica e o seu papel instituído da colonialidade.
O Movimento Pós-Colonial, dessa maneira, desafia as barreiras disciplinares ortodoxas, o qual deveria vir a influenciar a disciplina das Relações Internacionais a repensar e questionar seus paradigmas vigentes. A forma que a disciplina pensa e retrata o chamado “Terceiro Mundo” em sua construção política distorce o pensamento periférico tecendo bases epistemológicas para servir a narrativa Ocidental, assim como seus interesses (DARBY; PAOLINI, 1944).
É nesse espírito que foi constituído o pensamento do Grupo Modernidade/Colonialidade na década de 1990. Luciana Ballestrin (2013) descreve a importância do coletivo formado por pensadores latino-americanos, os quais defendem a necessidade de atualizar o pensamento crítico local, buscando releituras da historiografia e narrativa engessadas criada pelo homem branco europeu, assim assumindo novas influências teóricas e metodológicas. O Grupo utiliza do que a autora chama de “opção decolonial – epistêmica, teórica e política – para compreender e atuar no mundo, marcado pela permanência da colonialidade global nos diferentes níveis da vida pessoal e coletiva” (BALLESTRIN, 2013, p. 89).
Isso sinaliza um importante ponto de contato da proposta de engajamento necessária entre as Relações Internacionais e o Movimento Pós-Colonial que apontam Darby e Paolini (1994). Mesmo assim, também acrescenta elementos intrínsecos da Decolonialidade como novos conceitos e a preocupação de familiarizar as teorias críticas à identidade e vocabulários próprios, frente aos processos de apagamento de culturas, pensamentos e populações do epistemicídio colonial.
Assim, a colonização além de produzir a morte física dos povos colonizados, tentou destruir suas distintas tradições. Nesse contexto, Fernández (2019) aponta como a filosofia Ubuntu pode oferecer uma forma de resistência a essa lógica colonial. Essa filosofia, nascida no continente africano e muito disseminada durante a década de 1990 e início dos anos 2000, vem de convergência contra as teorias mainstream e a visão colonial, revelando a possibilidade de cosmovisões distintas e igualmente válidas.
O Ubuntu, emerge como uma forma de resistência ao pensamento colonial de desumanização e eliminação do outro, uma vez que valoriza a diferença e possui um modelo de justiça distinta da Ocidental, que se baseia na humanidade comum entre violado e violador. Indo contra a lógica Ocidental, que carrega uma aversão à diferença e coloca o Outro como inimigo, essa filosofia tem como premissa a ideia do Outro como “corresponsável pela existência humana comum” (FERNÁNDEZ, 2019, p. 20). Logo, o colonizador era, e é, visto como desprovido de Ubuntu, uma vez que não reconhecia a humanidade comum presente no Outro.
No entanto, movimentos contra a hegemonia das teorias demonstradas aqui não se restringem ao passado mais recente. Vitalis mostra na Howard School como já no momento de institucionalização da disciplina havia propostas de (re)pensar as RIs e as relações entre países mais criticamente. A “Howard School” pode ser entendida como uma organização de pensadores que criticam os argumentos das RIs, mostrando como o racismo sustentou o imperialismo. Vitalis (2015) mostra, contudo, como os estudiosos da escola de Howard foram silenciados por críticos literários, ignorando a contrução da Modernidade através da escravização, mantendo, assim, a cegueira internacional em discussões raciais, a ausência de professores negros, a escassez de programas de inclusão nas faculdades e a permanência de somente pessoas brancas em atividades de poder na sociedade.
Vitalis (2015) chama atenção para como esses impedimentos na partilha de novos pensamentos reiteram a imagem da Universidade como uma “Torre de Marfim”. Enquanto um grande instituto de pesquisadores e professores, ela se isola na instituição e conversa apenas entre si, fazendo com que seus alunos apenas repliquem seus ensinamentos sem espaço para questionamento dos seus fundamentos e valores. A Torre de Marfim, portanto, é um problema atemporal da Universidade. Uma consequência disso nas RIs é o imaginário de que pessoas negras não são lidas porque não escreveram artigos que moldaram o campo ou foram importantes. Dentro da Torre de Marfim, os questionamentos deste texto não são considerados ou problematizados, permanecendo a estrutura hierárquica Anglo-Saxã na disciplina.
Referências
BALLESTRIN, Luciana. América Latina e Giro Decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, 2013, n. 11, pp. 89-117
DARBY, Philip; PAOLLINI, J. A. Bridging International Relations and Postcolonialism. Alternatives, v. 19, n. 3, 1994.
FERNANDEZ, Marta. As Relações Internacionais e seus Epistemicídios. Monções, v. 8, n. 15, 2019.
GILPIN. Robert. War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
INAYATULLAH, Naeem; BLANEY, David. International Relations and The Problem of Difference. Nova York: Routledge, 2004.
NYE, Joseph; KEOHANE, Robert. Power and interdependence. 2. ed. Nova York: Harper Collins, 1989.
KRISHNA, Sankaran. Race, amnesia, and the education of international relations. Alternatives, v. 26, n. 4, p. 401–424, 2001.
SABARATNAM, M. Is IR Theory White? Racialised Subject-Positioning in Three Canonical Texts. Millennium: Journal of International Studies, v. 49, n. 1, p. 3–31, 2020.
VITALIS, Robert. White World Order, Black Power Politics. The Birth of American International Relations. Ithaca: Cornell University Press, 2015.
WALTZ, Kenneth N. Theory of International Politics. Nova York: McGraw-Hill, 1979.