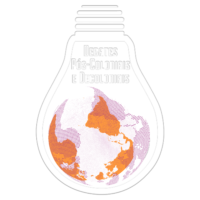Para citar esse texto:
MARQUES, Luany. DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO. Debates Pós Coloniais e Decoloniais, 16 out 2020. Disponível em: https://decoloniais.com/dia-mundial-da-alimentacao/ Acesso em: *inserir data*
“Quando tu conheces a origem do teu alimento, tu vais escolher quem tá na mesa contigo: se vai ser o agricultor ou se vai ser quem está matando o agricultor; se vão ser os povos originários ou quem está secando as nascentes” – Tainá Marajoara
Na era dos fastfoods e alimentos processados, comer se torna um ato mecânico que contempla satisfazer apenas as necessidades nutricionais do corpo humano – ás vezes nem isso, se resumindo à sensação de saciedade. A monocultura no campo reflete a monocultura no prato, e mais que nunca a alimentação dos povos de todo o mundo se vê monótona, fortemente padronizada, baseada em poucos tipos de alimentos e poucas formas de preparo. Assim como os demais alicerces da sociedade moderna/colonial, que se esforçam para dominar e capitalizar toda e qualquer instância das formas de ser e estar no mundo, essa padronização é anti-natural, e o atual sistema alimentar* dominante “é um dos fatores que mais contribui para a insustentabilidade no planeta”. Tracemos as raízes deste sistema abaixo.
No passado colonial das Américas, a hegemonia ocidental sobre os povos colonizados era firmada pela “verdade” da hierarquia racial: os colonos -e tudo o que produziam- eram, em todos os sentidos, superiores aos colonizados -e tudo o que estes produziam. Essa hierarquização se deu, também, na gastronomia, com a introdução forçada de práticas, gostos e sabores europeus para substituir as culturas alimentares nativas, consideradas inferiores. A isso se soma uma ideia reducionista da alimentação como fórmula de nutrientes necessária para manter o desempenho do corpo-máquina colonizado, apenas para que este fosse capaz de fazer funcionar as engrenagens da máquina de acumulação do capital. Como exemplo, vemos a dieta imposta pelos fazendeiros ou colonos aos sujeitos colonizados – escravos e indígenas – reduzindo ao consumo de milho, carne, banana e sal, considerada pertinente para seu desempenho (García; Diana, Benvegnú; Vinicius, 2018). Desde então, o governo colonial dos corpos se deu, também, através da alimentação, raízes para o atual controle sobre os corpos através da padronização das dietas alimentares.
Em meados do século passado, ganhou força nos discursos político, econômico e social internacionais -partindo dos países centrais- a ideia de desenvolvimento. De nova roupagem, as noções colonialistas de comportamento “civilizado” X “selvagem” foram reafirmadas, e o desenvolvimento enquanto modelo a ser seguido se deu por meio de financiamentos, incentivos, acordos internacionais políticos e comerciais. O que se cria, então, é um outro mecanismo de manutenção da modernidade/colonialidade, um critério de hierarquização entre nações, que passam a ser classificadas entre “desenvolvidas” e “subdesenvolvidas”. A implementação do modelo desenvolvimentista na agricultura foi chamada “revolução verde”, e prometia aos países “subdesenvolvidos” eliminar o “atraso” tecnológico e as relações “arcaicas” de produção e trabalho no campo através da mecanização da agricultura, uso de insumos químicos e de sementes transgênicas em enormes áreas de monocultivo. No Brasil, estes fatores, aliados à alta concentração fundiária e à injustiça agrária, formaram as bases do agronegócio.
Além de universalizar as estruturas do sistema alimentar, este modelo desenvolvimentista culminou no controle corporativo da produção e comercialização de alimentos. O atlas do agronegócio (Santos; Glass, 2018), elaborado pelas fundações Heinrich Böll e Rosa Luxemburgo mostra como um número reduzido de corporações controla o que comemos através de grandes redes de distribuição e forte poder de negociação de preços. Esses gigantes “negociam aqui e retornam com os lucros para seus países de origem enquanto nos distanciam das culturas alimentares locais, numa verdadeira lógica colonizadora do comer” (de Medeiros Silva; Emilia, 2019). Baseado nos interesses de acumulação de capital, se prioriza a produção e, consequentemente, o consumo de um número cada vez menor de grãos, substituindo o conhecimento e as práticas locais e tradicionais.
O atraso tecnológico e das relações de produção/trabalho foram associados às culturas alimentares de povos indígenas e tradicionais, que já vinham sendo inferiorizadas desde a colonização, considerando estas inimigas do progresso e do desenvolvimento. Isso, entre outros fatores, por serem culturas que pensam a produção de alimentos para a existência, não para a acumulação, sendo um exercício de autodeterminação desses povos. Como ensina Tainá Marajoara, “o espaço da cultura alimentar germina dos espaços dos povos originários e comunidades tradicionais”. Logo, as decisões sobre a forma de plantio, colheita, preparo e consumo dos alimentos são carregadas de forte bagagem cultural, diferente da produção materialista em larga escala e em série, pois “máquina não faz ritual, não tem espiritualidade, não transmite conhecimento entre geração. (…) O que significa que não tem uma produção com identidade, uma assinatura ali. Diferente da produção cultural. Cultura vem do conhecimento tradicional, das práticas artesanais, do saber, fazer, falar, dos vocabulários, dos nossos rituais, dos nossos cantos” (Tainá Marajoara).
Portanto, o sistema alimentar moderno produz alimentos oriundos de, arrisco dizer, um triplo genocídio: humano, ao passo que o avanço das fronteiras do agronegócio remove comunidades e assassina suas lideranças por defenderem formas-outras de se relacionar com o solo e o território; cultural, ao forçar uma universalização dos moldes ocidentais e capitalistas de produção, distribuição, processamento e consumo de alimentos; e, por fim, ambiental, causando a modificação dos ambientes rurais e a destruição sistemática de biomas e habitats para garantir a manutenção e expansão do agronegócio.
Nesse cenário de colonização de territórios para plantio de soja, milho e criação de gado, de monotonia alimentar, comida e água envenenados e crescente violência e injustiça ambientais, proponho aqui a reflexão: qual o preço real que pagamos pelos processos que os alimentos percorrem para chegar até o nosso prato? Falar de soberania alimentar é defender o direito à vida das atuais e futuras gerações, e a queda de um sistema que produz alimentos com “o espírito da violência, com sangue das lideranças tombadas na defesa das terras, com veneno, com exploração. Essa comida não nutre; adoece” (Inara Sateré Mawé).
Referências
Mulheres e soberania alimentar: sementes de mundos possíveis – Rio de Janeiro : Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), 2019. p. 42-56
Benvegnú, V.C., e Manrique, D. (2020). Colonialidade alimentar? Alguns apontamentos para reflexão. Mundo Amazónico, 11(1): 39-56.