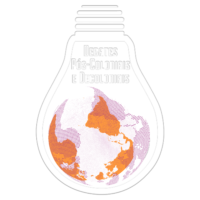Para citar esse texto:
MARQUES, Luany; ZAPHIRO, Emily. DE SELVAGEM A SUBDESENVOLVIDO: COLONIALIDADE E EXTRATIVISMO. Debates Pós Coloniais e Decoloniais, 14 mar 2021. Disponível em: https://decoloniais.com/de-selvagem-a-subdesenvolvido-colonialidade-e-extrativismo/ Acesso em: *inserir data*
O primeiro passo para criar uma relação de poder é traçar uma linha imaginária entre “eu”, o dominador, e “o outro” a ser dominado. Nesse sentido, a invenção do “outro” parte do princípio de que tudo o que não está “do meu” lado, não reproduz “as minhas” maneiras de ser, é sempre subjugado inferior, aquele cuja cultura deve ser varrida, transformada e melhorada “à luz” dos parâmetros do que é “correto” e “melhor”, tudo aquilo que ele não é. Cria-se uma lógica binária sistematicamente vendida como verdade absoluta: transformar “o outro” no que “eu sou” é não só um ato legítimo, como desfazê-lo de sua condição é tido como uma atitude benevolente, de grande ajuda.
O missionário espanhol Bernardino von Sahagún, cuja missão era catequizar os povos indígenas do território mexicano (séc. XVI), expressou isso muito claramente ao afirmar que “o missionário deve considerar-se a si mesmo como um doutor, e a cultura estrangeira como um tipo de doença que deve ser curada”.
A propagação dessa “verdade” binária e absoluta foi um dos pilares que legitimou o genocídio, o etnocídio e as tantas outras violências extremas da colonização às quais foram submetidos os povos nativos do que compreendemos hoje como América, Ásia e África. A invenção do “outro” colonizado como “selvagem” consagrou a posição dos povos europeus como “civilizados” e suas missões expansionistas e destrutivas como atos de salvação do pecado -pelo catolicismo-, do atraso -pela modernidade-, da ignorância -pela racionalidade- e da pobreza- pelo capitalismo. Esse imaginário fundou a suposta superioridade do europeu e deu bases para a formação das colonialidades do poder, do ser e do saber*. Muito bem representativo, Bhabha define o discurso colonial por seu objetivo “de interpretar o colonizado como uma população composta por classes degeneradas, dada sua origem racial, a fim de justificar a conquista e de estabelecer sistemas de administração e instrução” (ESCOBAR, 2007).

Um aspecto fundamental do caráter europeu “civilizado” é a visão de que o ser humano pertence à “Humanidade”, um estágio avançado de ser por seu pensamento racional, que está dissociada da “Natureza”, uma massa de seres -animais e vegetais- considerados não-pensantes, irracionais e, portanto, inferiores. Com isso, a Natureza é pensada para ser conquistada, dominada e manipulada para dela ser feita aquilo que melhor beneficia o homem, um pensar extremamente conveniente para os objetivos coloniais de extrair as riquezas naturais nos territórios-colônia e transformá-la em acumulação de capital nas metrópoles.
Nesse sentido, o “selvagem” é também aquele cujo modo de vida se relaciona intrinsecamente com a natureza, se entende como parte dela e não como um ente superior. A dicotomia selvagem-civilizado foi transformada em verdade absoluta pelos “grandes pensadores e cientistas” europeus. Desde então, a destruição da natureza pelo extrativismo passou a ser vista como uma tecnologia de progresso geradora de riquezas, que assentou as bases do então nascente sistema capitalista moderno. Se civilizado é aquele que é capaz de reproduzir essa tecnologia, todas as nações devem almejar o mesmo se querem ascender nesse evolucionismo civilizatório universal e linear -onde o topo sempre esteve ocupado pelos europeus.
Esses ideais dominantes de progresso e civilização, garantidos pela colonialidade do poder, refletem no que conhecemos hoje como “desenvolvimentismo”. Vivemos em um sistema-mundo dividido entre países considerados “desenvolvidos”, modelos a serem alcançados pelos países “subdesenvolvidos” e “pobres”. A institucionalização do desenvolvimento como um imperativo global surge no pós-Segunda Guerra, quando o então presidente norte-americano Henry Truman discursa sobre a necessidade de as nações alcançarem o desenvolvimento para fugirem da miséria, das doenças, da má alimentação, da vida econômica primitiva, percorrendo o mesmo caminho que os Estados Unidos e as demais nações industrializadas no topo dessa “escala evolutiva”. No quarto ponto de seu discurso, ele afirma que a pobreza dos países subdesenvolvidos “é um lastro e uma ameaça tanto para eles mesmos quanto para as regiões mais prósperas”, e que para essas últimas, seu “propósito teria de ser o de ajudar os povos livres do mundo” a alcançarem o desenvolvimento, expresso em termos de crescimento econômico e acumulação material. Essa meta transforma-se em uma “exigência global que implicava a difusão do modelo de sociedade norte-americano, herdeiro de muitos valores europeus” (ACOSTA, 2016).
A antiga estrutura colonial de dominação civilizado-selvagem é transformada, então, em uma dicotomia desenvolvido-subdesenvolvido, pobre-rico, avançado-atrasado, centro-periferia (ACOSTA, 2016). Desde então, essas ideias de progresso foram convertidas em ferramenta neocolonial e imperial usadas pelos países centrais, garantidas pelos organismos internacionais -como o FMI e o Banco Mundial-, legitimando intervenções políticas, chantagens econômicas, o crescente endividamento dos países periféricos e a eterna condição inferior destes. Tudo se deve aceitar em nome do desenvolvimento.
Inseridos no mercado mundial -lá na época colonial- enquanto exportadores de riquezas naturais, os países “subdesenvolvidos” aceleraram ainda mais o extrativismo dentro de seus territórios, a fim de gerar riqueza e crescimento econômico. Guillermo Herrera entende o vínculo entre a colonialidade e o extrativismo expresso nas culturas latinoamericanas através da “aceitação de uma incapacidade -assumida como natural- para nos pensar para fora do lugar e das funções que nos foram impostas, a partir de nossa incorporação ao processo de formação e suas transformações, do mercado mundial, do século XVI até nossos dias” (HERRERA, 2017). Ao assumir esse papel e se identificar com ele, a busca pelo desenvolvimento nos países da América Latina, mas também da África e Ásia, se traduz em práticas extrativistas desenfreadas, estimuladas pelo mercado mundial, em nome de um crescimento material infinito que depende de recursos naturais obviamente finitos. O sociólogo uruguaio Eduardo Gudynas conclui, a partir disso, que “não existe futuro para a acumulação material mecanicista e interminável de bens, apoltronada no aproveitamento indiscriminado e crescente da Natureza”, e, considerando o impacto de alta destruição desse modo de vida, estaríamos caminhando para um suicídio coletivo (ACOSTA, 2016).

A destruição da Natureza está intimamente relacionada ao apagamento dos modos de vida tradicionais e originários dos territórios colonizados, que resistem a essa violência desde a invasão colonial e são os principais responsáveis pela contenção do avanço da mega mineração, do agronegócio, do desmatamento etc. Seus modos de vida dependem de uma relação de harmonia e familiaridade com a Terra que habitam, fazendo dessas atividades econômicas, que são altamente destrutivas para o meio ambiente, absolutamente repulsivas para seus ideais. Frente a essa resistência, são fortalecidos os mecanismos de validação para o pensamento “desenvolvido ou subdesenvolvido”, resgatando a justificativa colonial que categoriza os povos indígenas e tradicionais como selvagens, inimigos do progresso, historicamente estagnados e, claro, pobres.
A resistência indígena ao agronegócio, desmatamento e mineração não é recente, tampouco sua luta perdeu a brutalidade com o tempo. Em 2019, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o número de lideranças indígenas assassinadas em lutas de campo foi o maior em 11 anos, as disputas sempre relacionadas com garimpos, grilagem, invasões de madeireiros na região e queimadas. É importante entender que o antropocentrismo, o patriarcado, capitalismo e o colonialismo andam juntos e que os povos originários não tem nada em comum com esses conceitos. Por isso, usar essa régua para medir o desenvolvimento destes povos não faz o menor sentido. Logo, deve-se desafiar essa visão de mundo para podermos pensar não em um “desenvolvimento sustentável”, mas em alternativas ao desenvolvimentismo, cuja promessa, nos lembra Alberto Acosta, “feita há mais de cinco séculos em nome do progresso e ‘reciclada’ há mais de seis décadas em nome do desenvolvimento, não se cumpriu. E não se cumprirá”.
Minas Gerais, que exporta 75% do Nióbio do mundo, foi castigada desde os tempos de colônia quando foram descobertos os diamantes e ouro. Seus exploradores, ao longo dos anos, sempre foram poupados de prestar o máximo de contas possíveis. Durante a colônia, um comendador era escolhido pelo monarca e usava mão de obra escrava para extrair os diamantes brasileiros e o único imposto a ser pago era para a coroa portuguesa por ‘’permitir’’ o uso da terra. Muitas vidas foram perdidas em nome do ‘’desenvolvimento’’ da colônia. Três séculos depois, a companhia Vale (minério de ferro) é responsável pela tragédia de Mariana, que perdeu mais de 270 vidas com o rompimento da barragem da mineradora, o motivo: falta de inspeções da estrutura da barragem. A companhia utilizou uma manobra comercial utilizando bancos suíços para deixar de pagar 23 bilhões de reais em impostos. Em outras palavras, o desenvolvimentismo é alheio das responsabilidades fiscais e legais (para com suas vítimas), uma agenda política que desconsidera a vida e a dor de certas pessoas, despindo sua humanidade, em nome do acúmulo de capital, assumindo-o como medida de progresso econômico.

Referências
ACOSTA, Alberto. O bem viver – Uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia Literária. Ed. Elefante, 2016, p. 43-66.
ESCOBAR, Arthur. La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana, 2007, p. 25-31.
HERRERA, Guillermo Castro. Socialidad y colonialidad en la cultura de la naturaleza en nuestra América, In ALIMONDA, Héctor et al (org.). Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Buenos Aires: CLACSO, 2017. Tomo II. pp. 297-302.